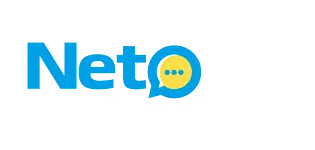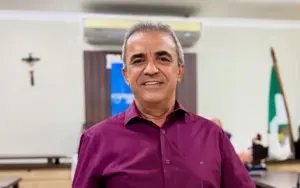Por Jessé Rebouças
Desde que a primeira nau aportou nas costas brasileiras, fala-se em reforma política. Com a licença poética do exagero da construção frasal — e aí está a grande questão —, mas afinal: qual reforma?
Segundo um dos maiores pensadores da democracia no século XX, Robert Dahl (Democracy and Its Critics), o sistema de representação política permitiu a vigência da democracia nas sociedades contemporâneas, que são complexas e heterogêneas, compostas por milhões de pessoas e atravessadas por múltiplas clivagens e fontes plurais de formação de identidades coletivas.
A despeito do palavrório rebuscado que se costuma adotar — e aqui tentamos tornar acessível o debate legítimo sobre o que de fato seria uma reforma política —, o problema central gravita em torno da tradição brasileira de não utilizar os mecanismos de participação direta previstos na Constituição: plebiscitos e referendos.
Além de previstos, esses mecanismos são incentivados pela própria institucionalidade constitucional, que determina que o poder será exercido pelos representantes e pelo povo. Contudo, em quase quarenta anos de Constituição Cidadã, esses instrumentos foram acionados, em âmbito nacional, apenas duas vezes: Em 1993, para definir entre monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialismo; Em 2005, sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições.
Os grandes temas — carga tributária, desonerações, custo do Congresso, orçamento secreto, direito penal, idade penal, sistema político-eleitoral — não são submetidos à população, como se o povo necessitasse da tutela permanente de seus representantes para exercer o próprio poder.
Nas democracias mais sofisticadas, a consulta ao povo é frequente e estruturante. No Brasil, é episódica, rara e, quando ocorre, decorre mais de pressões conjunturais do que de convicção democrática.
Em vez de uma reforma que devolva o poder ao cidadão, discute-se no momento a PEC 12/2002 — aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado — que propõe o fim da reeleição para cargos do Executivo. A medida, embora meritória em tese, não resolve a crise de legitimidade que corrói o sistema representativo brasileiro. Afinal, quando um parlamentar vota contra os interesses da população, o cidadão pode fazer o quê?
Ora, qualquer pessoa que outorga uma procuração a um advogado pode, a qualquer tempo, revogá-la. Mas o eleitor que elege um parlamentar — cuja atuação afeta diretamente sua vida, seus impostos, sua liberdade — não tem instrumento para revogar esse mandato entre uma eleição e outra.
A democracia representativa brasileira vive uma contradição insolúvel: o cidadão é soberano na hora do voto, mas se torna refém logo após o pleito. Nesse contexto, destaca-se a PEC nº 73/2005, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, que propõe a inclusão de um novo dispositivo na Constituição — o Art. 14-A — e a alteração do Art. 49. Trata-se de uma proposta que jamais saiu das gavetas estratégicas da obliteração institucional, vítima de um silencioso boicote legislativo.
Inspirada no modelo adotado nos cantões suíços — o Abberufungsrecht (do alemão: recht, direito; abberufung, revogação) —, essa PEC representaria uma das mais profundas revoluções políticas desde o descobrimento, pois não apenas conferiria ao cidadão o direito de eleger seus representantes, mas também o poder de revogar seus mandatos. Em termos práticos, permitiria que a população destituísse integralmente uma Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou até mesmo o Congresso Nacional, antes do término dos mandatos, sempre que o descolamento entre representados e representantes se tornasse insustentável.
Sem mecanismos de controle popular contínuo, reforma política é só ilusão de ótica. O Brasil não precisa apenas de novas regras eleitorais. Precisa de um novo pacto de confiança entre o povo e o poder. E isso não se vota em comissão.